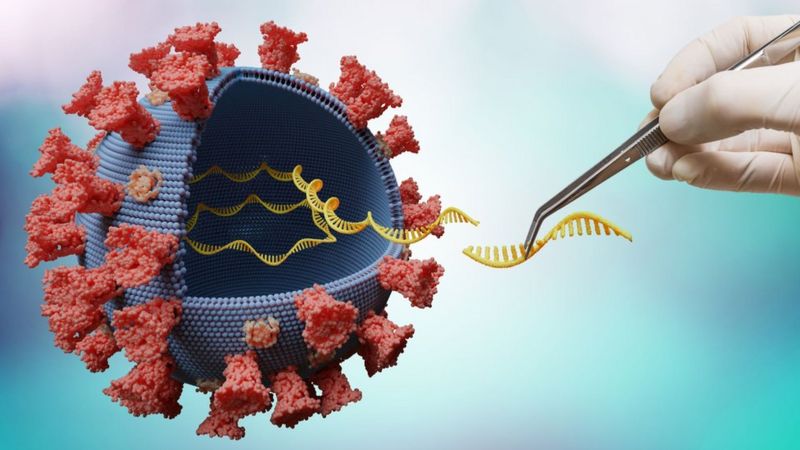Meus caros aliados liberais, feministas, anti-racistas e progressistas de outras variedades — quero falar do que temos chamado de “esquerda regressista” e convidá-los a uma atitude humanista mais crítica.
Sobre a esquerda regressista — ou por que “eu não posso condenar a MGF (Mutilação Genital Feminina) por causa do meu passado colonialista”
Meus caros aliados liberais, feministas, anti-racistas e progressistas de outras variedades — quero falar do que temos chamado de “esquerda regressista” e convidá-los a uma atitude humanista mais crítica.
Para um exemplo de uma das mais flagrantes manifestações da esquerda regressista, deixe-me citar Sarah Peace de seu (muito bom) artigo ‘Se tornou racismo condenar a MGF?’ (caso leiam todo o artigo, por favor, estejam avisados de que contém uma fotografia e descrições explícitas da MGF e da violência feita às mulheres):
“Quando sondada sobre o assunto, uma representante da sociedade LGBT Goldsmith respondeu que como branca ela ‘não pode condenar a MGF por causa do meu passado colonial’. Este desejo putativo de carregar os fardos do passado de pronto nos próprios ombros é reverberado entre as feministas? Gemaine Greer uma vez argumentou que tentativas de ilegalizar a MGF equivaliam a ‘um ataque à identidade cultural’, declarando: ‘o embelezamento de um homem é a mutilação de outro’. Greer foi amplamente condenada, quase de forma unânime. Passados quase 20 anos, alguns campos de estudo na academia incluindo a teoria racial crítica e de gênero estão reavivando o mesmo argumento, embora de uma perspectiva pós-colonial — sendo agora a diferença que uma geração de estudantes de minorias étnicas engoliram eles próprios esta narrativa destrutiva. A estância se torna reacionária e qualquer causa que vá contra a feia história do colonialismo se torna apelativa, independentemente das implicações.”
Gosto muito da última frase. Permita-me repetir: “… qualquer causa que vá contra a feia história do colonialismo se torna apelativa, independentemente das implicações.”
São dessas implicações que eu quero falar, o dano colateral que vem de um impulso demasiado forte de ser acrítico às práticas das culturas do Outro, especialmente quando combinado com pressupostos errôneos acerca da proximidade geográfica dos problemas nestas culturas — tais como o pressuposto de que o único problemas urgente empestando as comunidades muçulmanas no Ocidente é (o fenômeno muito real e generalizado da) intolerância contra os muçulmanos (e assim é de suprema importância combatê-la a todo custo) em vez de coisas como a MGF, o hijab forçado, a violência de honra e o controle familiar desumanizador, que com frequência não são nem pensados como problemas no Ocidente. Um exemplo, citando Peace novamente:
“A MGF, como o véu, não é uma prática confinada a terras longínquas. A MGF continua a ser praticada ilegalmente em meninas nascidas britânicas, com um caso reportado no Reino Unido aproximadamente a cada 2 horas. Se a MGF é executada numa menina branca na Grã-Bretanha, será considerada como criminosa — então porque esta posição muda quando uma criança somali é violada?”
Infelizmente, a hesitação acima em condenar a MGF é só um exemplo da resistência que nós, dissidentes conscientes vindos de culturas majoritariamente muçulmanas, encaramos; tem se tornado o que sentimos em tudo quando é lugar a que recorremos quando tentamos falar da violência e bitolagem devastando nossas comunidades natais. (Se você está sentindo um impulso de #NemTodaFeminista neste momento, lembre-se das objeções conscientes a #NemTodoHomem — que esta jogada retórica de absolver atores individuais da responsabilidade obscurece a natureza de um fenômeno generalizado que é um problema de precisa sim fazer parte da conversa).
Tenho pouca duvida que, com a maioria dos nossos aliados, a intenção é boa, nascida de uma cautela honesta contra dar corda para a intolerância contra os muçulmanos e uma avaliação cuidadosa de sua própria posicionalidade como forasteiros à situação em mãos. O que escrevo aqui se baseia neste pressuposto.
Frequentemente vejo uma resistência a ser crítico às práticas de outras culturas estruturada de um modo quase tautológico — que a feminista ocidental não está em posição de condenar as práticas das culturas do Outro porque elas vêm das culturas do Outro. Isto parece confuso a gente não familiarizada com a teoria racial crítica, pois certamente algo ser parte de uma cultura particular não fala em favor de seus efeitos positivos ou negativos, sua virtude ou valor ou carência do mesmo, absolutamente. Usar linguagem sobre ‘cultura’ é em meu entendimento uma tentativa de humanizar aqueles vistos frequentemente de modo simplista e caricaturado (isto é, as culturas do Outro). É também uma tentativa mal orientada precisamente à medida que não vai longe o bastante — você verá o que quero dizer.
Dizer ‘é a cultura deles’ é frequentemente uma abreviação para dizer que há um conjunto de normas, expectativas e estruturas sociais que, uma vez contextualizadas adequadamente, tornam a prática que pode parecer opaca aos forasteiros significativa — em suma, que estas práticas têm utilidade e função dentro da moldura daquela cultura. E, de fato, esta é frequentemente uma coisa que as pessoas legitimamente não enxergam ao abordar uma prática numa outra cultura que eles talvez considerem bizarra, perturbadora ou simplesmente ruim — que parece diferente quando a introduzimos numa estrutura inteira de comportamento social — o que pode parecer grosseiro ou ruim na realidade acaba sendo benigno ou bom.
Isto é verdade sobre práticas de virtualmente toda sociedade, incluindo ocidentais, e se manifesta tanto no nível micro como no macro. Permita-me dar dois exemplos (sem relação com o assunto desta discussão por simplicidade). Primeiro, subculturas como a BDSM participam de comportamentos que parecem legitimamente alarmantes e abusivos, mas que, uma vez introduzidos no modelo Seguro, São e Consensual e um entendimento mais amplo da sexualidade e necessidades sexuais humanas, se tornam não só benignos como potencialmente curativos e transformadores. Segundo, o tipo de ‘Cultura da Adivinhação” comum no Centro-Oeste e no Sul (e muitos outros lugares no país e no mundo) que esposa normas de polidez. Por exemplo, encorajar as pessoas a dizerem Não quando querem dizer Sim (por ex., dizer Não a uma oferta de um refresco por educação, sabendo que o anfitrião repetirá essa oferta e insistirá) ou fazer ofertas dissimuladas esperando uma recusa educada (por ex., oferecer comida que você comprou para si mesmo a seus amigos além de você). A um forasteiro, este comportamento é estranho e potencialmente desonestidade nociva levando as pessoas a todo tipo de mal-entendido e violações de limites — mas quando normalizado, se adéqua a uma estrutura de expectativas sociais mais amplas que têm utilidade social (demonstrar generosidade e respeito) enquanto minimiza o dano (devido ao entendimento implícito mais amplo do que está acontecendo).
A primeira coisa a reconhecer é que sim, frequentemente há práticas culturais que se tornam estigmatizadas e as pessoas que as praticam são desumanizadas e maltratadas, e até atacadas violentamente, em parte porque suas práticas não são contextualizadas adequadamente. É o combate a esta recusa ou inabilidade nociva de ver os contextos dos quais surgem práticas culturais do Outro que é um ímpeto para a teoria racial crítica.
No entanto, nem toda prática cultural cai nesta categoria, e com demasiada frequência parecem que caem, e é aí que parte do problema se encontra. Até apropriadamente contextualizadas — as vez contextualizadas de modo especialmente apropriado — muitas práticas culturais normativas são ainda radicalmente objetáveis. Nos dois exemplos acima, a BDSM se encaixa naquela categoria, e eu argumentaria que a Cultura da Adivinhação se encaixa nesta — sim, ela cria utilidade social, mas às custas de uma miríade de outros danos sociais mais invisíveis (veja aqui e aqui para exemplos e argumentos).
Infelizmente, a jogada de humanizar práticas de outras culturas frequentemente não transcende a contextualização para chegar a um exame crítico de se a prática apropriadamente contextualizada em questão é ainda objetável. Para dar um exemplo com muito mais relação, lhe apresento um espécime disto em ação. Neste artigo no Atlantic, “Por Que Algumas Mulheres Escolhem Ser Circuncidadas”, a autora aprende um número de coisas acerca da utilidade social e pessoal do corte genital feminino numa comunidade onde ele é normalizado e sai com uma visão de mais aceitação à prática, não indo além para um exame crítico de toda essa nova informação.
Num sentido, parece quase bizarro que isto aconteça. A descoberta de que, por exemplo (neste caso), as mulheres têm uma papel ativo no corte genital feminismo (em vez de ser imposto de um modo mais desvinculado por um monstruoso patriarcado) e que há mulheres que defendem veementemente a prática e sua liberdade de participar dela é tratado quase como uma revelação, apesar de ambos os conceitos serem nada de novo para as feministas ocidentais e apesar de ser perfeitamente esperada dada a socialização de gênero e a divisão de padrões de gênero. Novamente, a mecânica não é nova para as feministas ocidentais.
De fato, ambas estas características (as mulheres o fazem a si mesmas e umas às outras + as mulheres defendem o seu direito de participar dela) são verdadeiras sobre incontáveis práticas patriarcais (mais ou menos nocivas) no Ocidente, tais como mulheres aderirem a padrões de beleza mais ou menos fixos. E ainda assim estas coisas não apagam as implicações mais amplas de práticas de beleza normativas, que são ainda sujeitas à crítica veemente de uma perspectiva feminista. E é mais ainda bizarro que é tão fácil ser acrítico às implicações mais amplas de algo tão flagrantemente violento com a MGF.
O que está havendo aqui? De onde vem, esta inabilidade de ir além da contextualização cultural que trás à tona a função e utilidade de uma prática, para então examinar se essa função e utilidade valem a pena manter? Por que há uma carência de atitude crítica além de receber informação que faz a cultura do outro parecer menos caricaturada e simplista?
Esta é uma questão difícil, especialmente considerando quão assustadoramente dispostas as pessoas podem estar a aceitar as práticas culturais violentas dos outros. Veja, por exemplo, este artigo, “O que aconteceu quando uma ativista anti-MGF pediu às pessoas na rua para assinar uma petição a favor da mutilação de meninas” — alerta de spoiler, muita gente a assinou simplesmente por ouvir que a ativista queria proteger a sua cultura, tradição e direitos.
É uma questão ainda mais difícil considerando que ela vem de uma indisposição em vez de uma inabilidade de ser crítico de modos produtivos. As feministas ocidentais como aquela encontrada por Sarah Peace que ‘não podia condenar a MGF’ não parecem ter problema em reconhecer a função e utilidade das práticas patriarcais ocidentais que lhes causam dano enquanto também são críticas acerca delas, examinando e analisando os modos como estas funções se decompõem, os sistemas de poder e controle que elas sustentam, o dano que elas acabam fazendo ao indivíduo apesar de quaisquer bens sociais ou coletivos que elas possam também servir. Elas também reconhecem que há de fato modos de criticar uma prática cultural nociva sem simultaneamente dar corda para a intolerância contra aqueles que a praticam ou são sujeitos a ela. A habilidade, as ferramentas sociais e linguísticas para empreender este tipo de crítica estão presentes. Então por que é que essa crítica não está acontecendo?
Suspeito que parte do problema possa vir de uma crença de que as feministas ocidentais são de fato incapazes de empreender uma crítica apropriada, e isto as torna indispostas. Esta crença parece depender de vários fatores, dois dos quais abordarei. Primeiro, a noção de que a sua posicionalidade como um forasteiro o torna incapaz de comentar, e segundo, a consciência acentuada de talvez perpetuar uma tradição de hegemonia e imposição ideológica e cultural aos corpos e vontades de pessoas de outras culturas. Daí, a inabilidade da representante de Goldsmith de condenar a MGF ‘por causa do seu passado colonial’.
Tratando do primeiro fator: Muitas feministas ocidentais estão muito conscientes do fato de que sua proximidade externa a uma certa cultura as torna mal equipadas para assimilar as nuances de suas práticas. Creio que vem com a intenção de uma forma radical de respeito reconhecer que há provavelmente muito que um forasteiro deve estar perdendo, e isto vem de mãos dadas com um afastamento e uma permissão aos envolvidos mais diretamente de falar sobre o que eles sabem melhor. Embora seja verdade que há muito que um forasteiro não pode saber, porque algumas formas de conhecimento da mecânica social e seus efeitos são acessíveis pelo relacionamento imersivo e íntimo com uma cultura e suas práticas, eu argumentaria que é um razão insuficiente para desengajar-se. Há um risco muito real aqui que transformar pessoas em autoridades em virtude de simplesmente serem da cultura do Outro, sem mais que talvez um exame superficial da posicionalidade dessas pessoas nessa cultura e suas motivações… que muito influenciam o tipo de narrativa que elas propagarão e a retórica que ela adotarão.
A verdade é que não há, de fato, narrativas unificadas para as pessoas de uma cultura do Outro em particular, e hegemonia narrativa ocorre virtualmente em tudo quanto é lugar, por meio da qual algumas narrativas são elevadas às custas de outras, e é frequentemente o caso que são os proponentes de uma prática cultural mal entendida cujas vozes são ouvidas. Para dar um exemplo ao qual frequentemente faço referência, como me frustra pessoalmente, há muito mais visibilidade para a mulher hijabi por escolha própria que defende o seu véu no Ocidente do que há para aquelas que falam do dano e coerção que elas sofrem sob as doutrinas de modéstia muçulmanas. Este é especialmente o caso quando feministas ocidentais só podem interagir com os membros da cultura do Outro que já têm o tipo de acessibilidade linguística e geográfica que eleva as suas vozes. Isto com frequência significa que você ouve mais de membros de comunidades muçulmanas no Ocidente que estão eles próprios um tanto removidos das realidades normativas nos países de maioria muçulmana e em comunidades muçulmanas imigrantes mais insulares no Ocidente. Esta disparidade na representação não só cria hegemonia narrativa como a obscurece, pois narrativas contracríticas não são também apresentadas para acrescentar ao reservatório de informação e discussão. Uma hiperconsciência de sua própria posicionalidade como um forasteiro pode servir para criar uma reverência acrítica por vozes ‘mais informadas’, sem uma avaliação adequada da posicionalidade dessas próprias vozes.
Argumentarei que a consciência das limitações da sua própria posicionalidade se torna ainda menos útil porque é aplicada seletivamente. Ela deveria se aplicar propriamente tão fortemente se não mais à ideia de que é talvez mais difícil acessar os aspectos problemáticos de uma prática cultural, e não só a contextualização cultural que a tornará significativa. Se há tanto que um forasteiro não pode realmente saber acerca da função e significância de uma prática cultural, é evidente que há muito que o forasteiro não pode saber sobre os seus maus efeitos também. Este é o caso especialmente ao escutar os proponentes de uma prática cultural à exclusão daqueles que poderiam argumentar pelo contrário. O que significa acesso radicalmente insuficiente ao ‘interior’ para realmente perceber muitos dos modos como estas práticas acabam sendo nocivas. O hijab é de novo um bom exemplo disso — eu poderia escrever livros aos milhares sobre os maus efeitos potencialmente nascidos da doutrina da modéstia e a sua prática, mas suspeito que quando a explicação positiva do hijab-como-combate-contra-à-objetificação-sexual é apresentada por uma orgulhosa hijabi, isto pode tornar mais difícil para a feminista ocidental se dar conta da quantidade de coisa muito feia que poderia estar supurando abaixo da superfície. Especialmente se essa explicação apresenta novas ideias, subitamente põe uma prática aparentemente bizarra (por que vocês mulheres estão se cobrindo da cabeça aos pés?) numa luz que a faz fazer sentido (oh, para evitar a objetificação sexual e focar na mente em vez do corpo). Suspeito que para muitos de nós é frequentemente duro ir além de uma nova compreensão a uma crítica dessa compreensão. A famosa citação de Aristóteles vem à mente: “É a marca de uma mente educada ser capaz de conceber um pensamento sem aceitá-lo”. Infelizmente, isto nem sempre é fácil quando há tanto ímpeto motivacional para ser cauteloso de criticar uma outra cultura, e o fluxo enviesado de informação não pode ajudar. As vozes dos proponentes de práticas culturais como o hijab de fato são frequentemente elevadas enquanto as vozes dos dissidentes são ignoradas, ou apagadas, ou simplesmente não muito acessíveis.
E embora a dinâmica geral de silenciamento e controle sirvam para marginalizar um subconjunto de vozes basicamente em tudo quanto é lugar, é muito mais provável que dissidentes conscientes em qualquer sociedade caiam nesse grupo, em virtude de se oporem ao seu próprio zeigeist cultural. Ainda assim, carentes de sermos escutados quando de fato encontramos visibilidade sonora, antes somos frequentemente ignorados como comentaristas inautênticos porque não aderimos às normas de nossas culturas natais (ou seja, eu escrevo um artigo acerca das minhas experiências crescendo como uma mulher muçulmana e muitas pessoas o ignoram sumariamente porque não sou mais muçulmana) e chamados de insultos desumanizadores como ‘informantes nativos’ e ‘novos mccarthyitas’. Além disso, não só é verdade que os dissidentes conscientes carecem de visibilidade e são frequentemente ignorados e difamados como também tendem a ter causas urgentes e ser o subgrupo mais vulnerável dentro da minoria mais ampla de uma cultura do Outro.
Esta crua e perversa desvalorização deixa claro que a consciência de posicionalidade não é o único fator que contribui a um espírito acrítico. Parece só uma explicação inadequada e parcial na melhor das hipóteses, porque vozes melhor posicionadas são ignoradas e porque algumas práticas culturais são tão clara e extremamente objetáveis que desculpá-las deveria ser bastante difícil, mais que qualquer outra coisa, não importa a sua posicionalidade. Por exemplo, os maus efeitos de algo como a MGF são muito gritantes e claros, ainda assim eles no entanto conseguem ser desculpados ou a prática, habilitada (veja, por exemplo, estes ginecologistas americanos advogando pela legalização dos ‘entalhes’ genitais femininos).
Isto nos leva ao segundo fator — uma forte motivação a não avançar com uma longa tradição ocidental de exploração de pessoas de outras culturas. O fardo da ‘culpa branca’ não é inútil — é parte do que motiva muitos ocidentais bem intencionados ao ativismo anti-racista, um tipo de ativismo que todos nós necessitamos crucialmente. No entanto, também deixa as pessoas ávidas por não dar corda a qualquer comentário negativo acerca de uma cultura do Outro, especialmente em linha com uma avaliação de que problemas têm mais proximidade social ou são mais urgentes — daí o foco unilateral na luta contra a intolerância contra os muçulmanos vindo de um pressuposto de que ela é o problema mais grave e mais perigoso encarando as comunidades muçulmanas no Ocidente hoje em dia, e que é realmente o único problema que os ocidentais estão equipados para combater. Isto também serve para sustentar uma hegemonia narrativa, e vemos os efeitos deste tipo de fenômeno não só com respeito às comunidades muçulmanas como outros espaços racializados. Por exemplo, nos EUA, as feministas negras frequentemente reclamam com razão de não serem ouvidas, e isto se deve em parte à urgência de combater o racismo vivenciado pela comunidade negra que recebe prioridade em detrimento à misoginia vivenciada pelas mulheres negras em culturas negras. Experiências demais de violência e controle patriarcal são apagadas ou obscurecidas por medo de dar corda para o tipo de racismo que vê homens negros como perigosos e predatórios. Para dar outro exemplo de um contexto não-americano, no mundo árabe, retórica sustentando a Nakba como a narrativa palestina seminal serve para obscurecer e apagar os infortúnios das mulheres palestinas e sua privação de direitos.
As feministas e ativistas ocidentais certamente não têm a intenção de sustentar este tipo de hegemonia narrativa, mas a urgência moral de combater o racismo quando se ‘vem de’ legados de exploração frequentemente resulta numa extrema cautela contra incidente ou acidentalmente dar corda para o racismo (neste caso, intolerância contra os muçulmanos), e o dano colateral é infelizmente muito fácil de ignorar, especialmente porque os mais vulneráveis e marginalizados são também os mais invisíveis. Parte desse dano colateral é por sua vez obscurecer os legados de exploração que a gente das culturas do Outro também carregam — por exemplo, o imperialismo árabe e muçulmano e seus efeito duradouros, ou uma estirpe particularmente muçulmana de patriarcado. Com muita frequência, se forças opressoras abrangentes nas culturas do Outro são reconhecidas em absoluto, sua existência é atribuída à influência imperialista colonialista ocidental, ignorando os fatos históricos e absolvendo membros das culturas do Outro da responsabilidade pelo seu próprio legado de exploração.
Além disso, o ímpeto de não dar corda a qualquer intolerância contra a gente das culturas do Outro resulta não só numa falta de uma atitude apropriadamente crítica como na adoção de defesas injustificadas de práticas da cultura do Outro que servem para apagar as suas características significativas. De novo, dano colateral não intencional. Ao que faço referência mais frequentemente parece se manifestar numa tentativa de humanizar por comparar práticas patriarcais no Ocidente a outras em culturas do Outro, encontrando paralelos e relações entre elas para de alguma forma indicar ‘veja, não somos tão diferentes’ e argumentar a favor do tratamento igualitário com base nisso. E embora seja frequentemente útil ter uma moldura de referência análoga, a comparação frequentemente não é acompanhada pelo contraste necessário, causando confusões bastante preocupantes. Permita-me dar dois exemplos.
Primeiro, este artigo compartilhado no Facebook objetando a uma discussão da violência contra as mulheres como o crime de honra no Paquistão, comparando os números aos de mulheres assassinadas por companheiros nos Estados Unidos, dizendo que “A mídia é rápida em alvejar assassinatos de mulheres em países dominados por muçulmanos. Talvez ela também deva olhar os fatos nos EUA e no Canadá”. Tirando o fato de que a violência por companheiros nos EUA definitivamente está sendo abordada dentro do feminismo ocidental (se ainda inadequadamente, mas defensavelmente acima de tudo o mais) de um modo que a violência de honra em sociedades de maioria muçulmana não está, o impulso de comparar os dois problemas para afirmar que realmente não há muita diferença entre eles corre o risco de obscurecer as diferenças muito significantes entre a violência de honra no Paquistão (e comunidades mais amplas de maioria muçulmana) e a violência doméstica contra as mulheres. As características culturais que não se comparam poderiam constituir o seu próprio ensaio, mas brevemente: em muitas, muitas sociedades majoritariamente muçulmanas, a honra não é uma emoção, mas um eixo explícito e profundamente arraigado de expressão cultural, quase uma moeda, que se manifesta em padrões particulares que são impactados pela família e considerações sociais que simplesmente não estão em ação na maioria da violência doméstica no Ocidente, especialmente violência de companheiros. Estas características absolutamente deveriam impactar o modo como lidamos com a violência de honra e como ela é investigada. Por exemplo, em muitos países de maioria muçulmana há fortes normas sociais ou até leis habilitando a violência de honra, como sentenças reduzidas para crimes de honra ou códigos penais que exoneram estupradores condenados caso ‘salvem’ a honra da família da sua vítima casando-se com ela. Também, em casos em que o processo do crime de honra ocorre de fato, frequentemente só os agressores ou assassinos efetivos são condenados com qualquer coisa que seja, embora frequentemente haja um aspecto de cooperação familiar no crime que o torna uma conspiração. Enquanto a maior parte da violência doméstica contra a mulher nos EUA é violência de companheiros, uma quantidade vertiginosa de violência de honra em sociedades de maioria muçulmana é cometida por pais, tios, não-companheiros que tem um interesse familiar particular em ‘guardar’ a pureza feminina.
É um fenômeno diferente e precisa ser considerado em seus próprios termos. Numa tentativa bem intencionada de contestar a noção de que o patriarcado no Ocidente ‘não é tão ruim’ quanto o patriarcado em sociedades de maioria muçulmana, aspectos relevantes de uma ideologia profundamente baseada na honra são apagados, e alguém como eu se encontra privada da terminologia para discutir os eventos na vida de um modo significativo com meus interlocutores ocidentais.
O segundo exemplo envolve a equalização entre o hijab e modos de vestir desumanizadores impostos pelo patriarcado ocidental, como salto-altos, biquínis e roupas íntimas restritivas, apesar do fato de que as influências que normalizam as duas formas de vestir parecem muito, muito diferentes, e que os efeitos da dissidência são também muito diferentes. As vezes dá vontade de gritar ao ouvir esta contínua comparação, o biquíni e o hijab, quando penso nos meus 15 anos vivendo sob as normas de uma doutrina de modéstia moralmente severa policiando cada movimento meu e mantendo minha segurança física e mobilidade refém com base na minha conformidade. Sarah Peace escreve:
“No seminário que me alertou para a generalização desta tendência sinistra, meu palestrante não fez uma distinção entre o véu e a MGF, simplesmente equalizando os dois com modos culturais de ser que são paralelos ao pensamento secular ocidental. O argumento para o véu pode certamente ser feito: Mulheres muçulmanas escolhendo modéstia, piedade e a privatização de seus próprios corpos a fim de manter o poder — no que elas julgam um mundo patriarcal em que os corpos das mulheres são objetificados, sexualizados e comodificados.
Por mais que fosse verdade para elas, isso não nega o fato de que as mulheres são punidas com chibatadas e ácido por se recusarem a obedecer à lei onde o véu é obrigatório. A polícia da moralidade do Sudão rotineiramente assedia as mulheres por não usarem o véu, enquanto que no norte da Nigéria a acusação de vestimenta indecente pode ser feita a qualquer mulher que descubram não ser obediente — sem mencionar o agressivo policiamento do véu no Irã, Afeganistão e Arábia Saudita. A comparação ao biquíni e a mini-saia como equivalentes ao véu não se sustenta, pois nenhuma mulher é chicoteada, queimada ou apedrejada por não mostrar muita pele.”
Peace relata algumas das consequências legais para a imodéstia sem tocar nas sociais e familiares, pressões e punições cruciais e devastadoras que precisam ser discutidas em detalhe ao interrogar a prática do hijab, mas que se tornam obscurecidas quando comparações superficiais são feitas entre hijabs e biquínis.
Em conclusão, esta é a minha esperança e desejo aos meus caros aliados liberais, feministas, anti-racistas ocidentais:
Quando buscarem escutar, entender e contextualizar as práticas de uma cultura do Outro, perguntem a si mesmos se vocês estão dando ouvidos à verdade ou tentando exonerar uma cultura do Outro a todo custo, e que crimes vocês podem estar inadvertidamente acobertando nesse processo.
Perguntem a si mesmos que vozes vocês podem não estar ouvindo, e por quê. Perguntem a si mesmos às custas de quem as causas que vocês assumem seletivamente podem vir.
Busquem aplicar os mesmos padrões às práticas culturais contextualizadas que vocês aplicam ao considerar práticas sociais impostas a vocês em sua sociedade.
Em seu impulso por humanizar, tenham cuidado para não pôr em pé de igualdade problemas que vocês conhecem com problemas em outro lugar que tenham certas características similares — está tudo bem patriarcados diferentes parecerem diferentes. Está tudo bem alguns serem piores de várias maneiras do que outros. Abracem este fato. Negá-lo não o modifica, e só machuca mais os mais vulneráveis.
E obrigada.
Hiba Krisht escreve para o blog The Ex-Muslim do Ex-Muslims of North America, uma organização que “advoga pela aceitação à dissidência religiosa, promove valores seculares e visa a reduzir a discriminação encarada por aqueles que deixam o Islã”.
Link para o original.